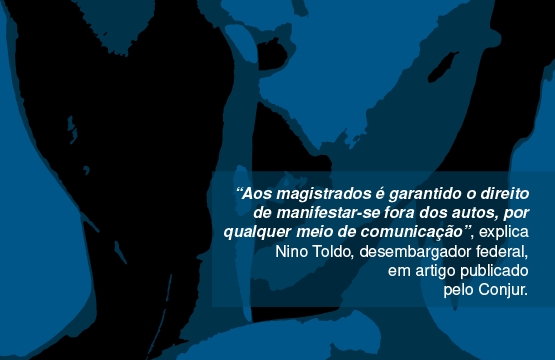Artigo escrito pelo desembargador federal Nino Toldo e publicado originalmente pelo Conjur.
É senso comum que juiz fala nos autos e, por isso, não deve emitir opinião, tampouco dar entrevistas. Será isso correto? Será que, em pleno século XXI, na era dos direitos, o magistrado deva mesmo “falar somente nos autos” e não expressar opinião? Será que à sociedade não é dado o direito de saber como pensam os magistrados?
Palavras e ações repetem-se sem que se faça qualquer reflexão sobre a razão delas. Assim é com a liberdade de expressão dos magistrados. Por que os juízes falam (ou devem falar) apenas nos autos?
A magistratura é regida pela Lei Complementar 35, de 14.03.1979, a chamada Lei Orgânica da Magistratura Nacional ou, simplesmente, Loman, cujo artigo 36, inciso III, dispõe que é vedado ao magistrado “manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério”.
A Loman foi promulgada durante o período de exceção vivido pelo Brasil, no qual havia censura e repressão às liberdades de expressão e de imprensa, dentre outras barbaridades.
A Constituição Federal de 1988, democrática e republicana, estabelece, em seu artigo 5º, caput, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza; e, em seu inciso IV, que “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Mais adiante, no inciso IX, dispõe que é livre a expressão da atividade intelectual, independentemente de censura ou licença.
Não é preciso muito esforço para concluir que a regra de proibição prevista no artigo 36, III, da Loman é incompatível com o regime de liberdades e garantias previsto na atual ordem constitucional.
Aos magistrados é garantido o direito de manifestar-se fora dos autos, por qualquer meio de comunicação.
No entanto, a pergunta que se coloca — dentro do regime de liberdade garantido pela Constituição — é: até que ponto deve o juiz manifestar-se sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou emitir juízo depreciativo sobre qualquer decisão?
Penso que, antes de mais nada, trata-se aqui de aspecto ético, de conduta, e não propriamente de regra de proibição.
Explico. O juiz tem o direito (garantido constitucionalmente) de emitir opinião e manifestar livremente seu pensamento. Todavia, não deve fazê-lo em situações que possam configurar prejulgamento ou suspeição.
Isto porque se espera do magistrado uma conduta imparcial. Se ele manifesta-se acerca de processo que está por julgar, poderá emitir opinião que indique o rumo decisório que irá seguir ou fazer algum juízo depreciativo em relação a qualquer das partes, de modo a macular aquela imparcialidade. Isso poderá levar à sua suspeição ou, eventualmente, no âmbito criminal, a alguma nulidade.
Em relação a casos que estejam sob julgamento de outro órgão judicial, é preciso cautela da mesma natureza. Por exemplo, um desembargador não deve manifestar-se sobre caso que possa vir a julgar em grau de recurso. Se o fizer, poderá colocar-se em risco de ter sua imparcialidade questionada pela parte que se sentir prejudicada.
É comum ver na imprensa manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal sobre processos em curso naquela corte ou sobre decisões de colegas, sob a proteção de não terem seus nomes revelados. Isso é muito triste de se ver, pois a Constituição garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato. Como pode, então, um ministro do Supremo Tribunal Federal emitir opinião e escudar-se no anonimato (e sigilo da fonte do jornalista)? Note-se que essa situação é diferente de se falar “em off”.
Um ministro — assim como qualquer outro magistrado — tem o direito de expressar sua opinião, porém tem o dever de fazê-lo claramente, assumindo todos os riscos daí decorrentes.
Porém, voltando um pouco no que disse acima, trata-se, a meu ver, de aspecto ético, de conduta, e não de regra de proibição. Como assim? É que a Loman, no artigo 36, trata de regras de proibição (“é vedado ao magistrado”), enquanto no artigo 35, trata de regras de conduta (“são deveres do magistrado”).
Quero dizer com isso que a questão da livre manifestação pensamento e seus eventuais limites deveria ser tratada no âmbito dos deveres éticos do magistrado, e não das proibições.
Assim, melhor andaria a Loman se contivesse dispositivo no sentido de ser dever do magistrado não manifestar opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, salvo para esclarecimento de situações fáticas relacionadas ao procedimento.
Tal orientação, aliás, embora contrária à literalidade da Loman, foi adotada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quando aprovou o Código de Ética da Magistratura Nacional, cujo artigo 12 dispõe que “cumpre ao magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, comportar-se de forma prudente e equitativa, e cuidar especialmente: (i) para que não sejam prejudicados direitos e interesses legítimos de partes e seus procuradores; (ii) de abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentenças ou acórdãos, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério”.
Veja-se que há uma significativa diferença. Uma coisa é proibir a manifestação do pensamento; outra é estabelecer que o magistrado deve comportar-se eticamente na sua livre manifestação do pensamento.
A má compreensão desses aspectos, a meu ver, leva a outro problema sério: a relação dos magistrados com a imprensa. O direito à informação — igualmente garantido na Constituição — frente à referida regra de proibição.
Os magistrados, muitas vezes, negam-se a conversar com jornalistas, citando a proibição da Loman. Não pretendo, neste pequeno artigo, aprofundar-me nesse ponto, até porque demandaria outras considerações, mas o que me parece importante dizer, neste momento, é que, nesse campo, também existe uma má compreensão dos papéis do juiz e do jornalista.
Nós, juízes, devemos ter a compreensão de que existem processos que são fonte de notícias e que a imprensa tem o papel fundamental de fazer a interface entre essa fonte e a sociedade, que tem o direito à informação. Os jornalistas, por sua vez, devem ter a compreensão de que os juízes têm limites sobre o que podem, ou não, falar. E isso não é difícil de compatibilizar.
Há processos que são até simples no procedimento, sob o ponto de vista jurídico, mas que geram notícia, como, por exemplo, o furto ocorrido no Museu de Arte de São Paulo (Masp), há alguns anos. Furto é um crime comum, corriqueiro, mas no Masp? Isso é notícia. Então, é absolutamente natural que o juiz seja procurado para dar informações sobre o caso. Não precisa antecipar posicionamento, mas pode informar os jornalistas sobre os rumos do procedimento (por exemplo: quem já foi ouvido; quem será; tempo de duração provável do processo), para que o caso seja corretamente contado ao público. Não há, aí, violação a qualquer regra de conduta do magistrado.
Penso, enfim, que o artigo 36, III, da Loman é inconstitucional, pois traz regra de proibição, incompatível com o regime de liberdade de manifestação do pensamento. Os magistrados têm o livre direito de manifestar seu pensamento, por qualquer meio de comunicação, e muitos já o fazem intensamente por meio das redes sociais.
Eventuais limitações devem restringir-se ao campo ético, dos deveres, como o fez — corretamente — o Código de Ética da Magistratura Nacional.
A má compreensão desses aspectos dificulta, por vezes, o relacionamento entre os juízes e a imprensa, mas isso não é difícil de resolver, sendo importante, para tanto, a realização de eventos que permitam uma sadia aproximação de atores tão fundamentais para a democracia.